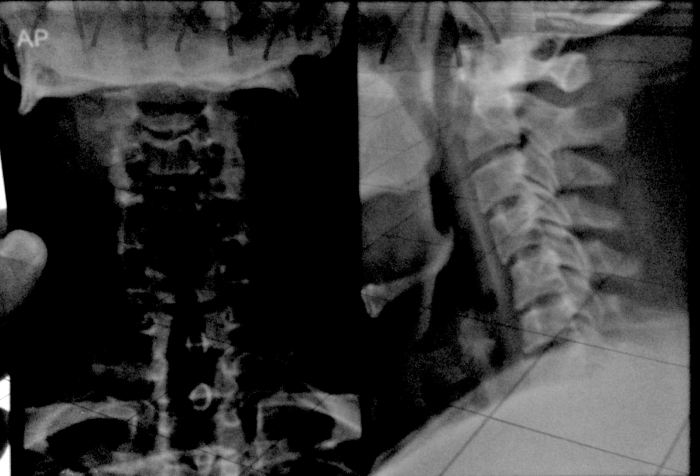Neste artigo, elaborado a convite do professor de psicologia e hipnose Alberto Dell’isola, apresento minha experiência hipnotizando meu filho autista não verbal. Tenho utilizado a hipnose com pessoas autistas de vários níveis do espectro, e este artigo é apenas o primeiro de uma série sobre o uso da hipnose para melhorar a qualidade de vida de pessoas autistas.
Neste artigo, elaborado a convite do professor de psicologia e hipnose Alberto Dell’isola, apresento minha experiência hipnotizando meu filho autista não verbal. Tenho utilizado a hipnose com pessoas autistas de vários níveis do espectro, e este artigo é apenas o primeiro de uma série sobre o uso da hipnose para melhorar a qualidade de vida de pessoas autistas.
É importante deixar claro que a forma como abordo a hipnose aqui não promete a “cura do autismo”, até porque não há consenso nem mesmo sobre se uma cura para o autismo seria possível ou desejável. O foco aqui, novamente, é melhoria de qualidade de vida. A internet já está cheia de hipnotistas “quânticos” fazendo promessas impossíveis. É este tipo de coisa que, periodicamente lança a hipnose no ostracismo após surtos de interesse sazonais.
Trabalho com autismo desde 1993, quando ainda era considerado um transtorno raro. Sou psicólogo e psicoterapeuta, e minha clientela é quase inteiramente composta de pessoas autistas. Tenho dois filhos e uma filha autistas, os dois considerados graves, e ela, leve.
A partir de meu recente interesse em hipnose, tenho repensado e aperfeiçoado a minha prática clínica, porque descobri, a partir dezembro de 2018, que muito do que faço de melhor pode ser considerado uma forma de hipnose. Este artigo é a primeira tentativa de organizar e difundir este saber.
Autismos
Lord Henry Cavendish, o descobridor do hidrogênio, era uma pessoa isolada e esquisita. Seu biógrafo escreveu que ele não tinha sentimentos sociais, e ele nunca casou. Não deixou descendência.
Na primeira metade do século XX, Paul Dirac, ganhador do prêmio Nobel de física de 1933, era uma pessoa isolada e esquisita. Mas, diferentemente de Cavendish, vivia em uma sociedade que progressivamente adotava a inteligência como mais importante para o êxito material e social. E não qualquer tipo de inteligência: especificamente a capacidade humana para a sistematização. Uma sociedade cada vez mais pautada pela ciência. Dirac casou e teve filhos.
Nos anos 70, aqueles nerds do Vale do Silício que puseram computadores nas mesas das pessoas, depois em seu colo, depois em seus bolsos, tornaram-se bilionários, e praticamente todos se casaram e muitos de seus filhos são autistas.
Todas esses pessoas têm características de temperamento e personalidade que hoje associamos facilmente com o autismo. Pessoas assim hoje costumam ter filhos autistas, e muitas vezes saem com o próprio diagnóstico, ao buscar o dos filhos. Mas este é um fenômeno que começou a ser compreendido apenas recentemente.
O autismo é considerado hoje um dos mais comuns transtornos do neurodesenvolvimento. Nem sempre foi assim. Desde quando foi descrito pela primeira vez no artigo de Kanner em 1943, era considerado uma síndrome rara, e permaneceu assim até perto da virada do milênio.
As causas desse aumento exponencial na prevalência do autismo ainda são objeto de discussão. Alguns atribuem-no à modificações sucessivas no escopo dos critérios de identificação, o que é um fato facilmente verificável. A partir do artigo original até o início da década de 60, Kanner permaneceu um dos poucos psiquiatras habilitados a realizar o diagnóstico, que era bastante restrito à sua descrição original.
Desde este período até os anos 80 o fenômeno foi atraindo a atenção da comunidade médica e do público em geral, quando os critérios para sua identificação foram publicados pela primeira vez na terceira edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases (DSM III).
A partir de então os critérios mudaram na revisão desta edição, mudaram novamente na quarta, com a introdução da então chamada “Síndrome de Asperger”, e por fim, em 2013, com a publicação da quinta edição, mudaram novamente.
Cada uma dessas modificações ampliou o escopo dos critérios, de modo que pessoas que não podiam ser diagnosticadas com autismo passaram a sê-lo. Mas é possível que esta hipótese do erro estatístico não contemple os números alarmantes (mais de 1% da população mundial) da atual prevalência do autismo.
Além disso, há uma associação bastante clara entre autismo e mentes mais sistemáticas, analíticas e pouco empáticas. Pessoas que se sentem mais à vontade com dados que com outras pessoas são parte do estereótipo social do “nerd”, e têm filhos autistas mais frequentemente.
Assim, o aumento da prevalência do autismo pode estar associado a uma demanda crescente da sociedade por cérebros com perfil analítico, o que facilitaria que pessoas assim tivessem mais sucesso material e maior probabilidade de ter filhos.
Pessoas esquisitas e isoladas sempre existiram em todas as culturas, mas a cultura pós industrial as empoderou como nenhuma outra antes dela. Pode ser apenas a velha teoria da evolução acontecendo bem diante dos nossos olhos.
Provavelmente o aumento na prevalência do autismo seja uma combinação destes e outros fatores a serem identificados. De todo modo, é cada vez mais relevante que nos informemos sobre o tema, especialmente se somos profissionais de saúde ou educação.
Mas pessoas como Cavendish e Dirac não são o único tipo de gente que a palavra autismo nos lembra. Há também pessoas com deficiência intelectual grave, que não falam, e que frequentemente apresentam comportamentos auto ou hetero destrutivos, colocando a si próprios e a seus familiares sob estresse contínuo e, não raro, risco de lesões físicas e emocionais.
É provável que o que chamamos de autismo, do ponto de vista etiológico sejam diversos fenômenos diferentes, que têm em comum alterações qualitativas no desenvolvimento de capacidades para a Interação Social e Comunicação, dificuldades de processamento e modulação sensorial, e exibindo, em graus diferentes, interesses e comportamentos restritos e repetitivos.
Isso é um universo tão amplo que nele cabem Cavendish, Dirac, Temple Grandin e o meu filho, Giordano, que não fala, nem tem problemas de contato visual, embora tenha dramáticos e dolorosos colapsos sensoriais.
Ao que parece, há diversas maneiras se se chegar na configuração comportamental identificada como Transtorno de Espectro Autista.
Hipnoses
Minha história com a hipnose é bem mais curta do que com o autismo. Foi a partir de um vídeo do canal do paleontólogo, zoólogo, palestrante e divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula.
O vídeo falava sobre os alegados “poderes” do criminoso internacional João Teixeira de Farias, o médium “João de Deus”. Foi só então que tomei contato com o tema de um modo mais científico, fora dos vieses comuns da psicologia, e do senso comum, em dezembro de 2018.
Comecei então a ler sobre o assunto, hipnotizei uma pessoa pela primeira vez em janeiro de 2019, uma amiga, e comecei no mesmo mês a fazer pequenas experiências com meus pacientes. Desde Junho de 2019, sou aluno do professor Alberto, o qual foi mencionado pelo Pirula em seu vídeo original na internet.
Tal como Alberto gosta de ressaltar em vídeos e palestras, a hipnose tem diversas definições diferentes, e nisso consiste a dificuldade em estudá-la cientificamente. O mesmo, parafraseando Dell’isola, acontece com a memória, a inteligência, e — adiciono — o autismo.
Listar e comparar essas definições fugiria do nosso escopo aqui, então vou ficar apenas no anúncio de quais hipnoses tenho realizado com meus pacientes. E já há conteúdo sobre isso no próprio blog do professor Alberto.
A definição da American Psychological Association é insuficiente, para efeito do que vou descrever aqui. Ela sofreu críticas, principalmente pelo fato dessa definição não abranger os estados hipnóticos naturalísticos, ou a “hipnose do dia-a-dia”, como definida por Milton Erickson. Esta controvérsia, no entanto, não interessa para o escopo deste artigo, e pode ser encontrada em suas referências nos links das notas de rodapé.
Ainda que os tipos de hipnose que pratico aqui incluam fenômenos como ativação vagal, no escopo da teoria polivagal de Stephen W. Porges, que ainda não tem aceitação científica ampla, pensar em hipnose como um estado de concentração e sugestionabilidade ampliadas é amplo o suficiente, e independente o suficiente dos caminhos para se atingir este “estado” (outra discussão que quero evitar aqui, mas que é intrínseco à definição da APA).
A diferenciação entre como se entra em “estado hipnoidal” e em que este estado consiste não é tão importante, porque, em minha observação, praticamente todos os autistas entram em auto-hipnose, mas muitos deles não conseguem aceitar induções formais de transe. Não conheço estudos de hipnotizabilidade de pessoas autistas com grupo de controle neurotípico, mas em minha experiência, alguns autistas têm maior dificuldade para contornar a faculdade crítica, como requerido por uma definição clássica como a de Dave Elman, e mesmo a da APA, quando se refere à sugestionabilidade como um fator essencial.
Assim, vou ficar com a definição de James Tripp sobre hipnose, para efeito deste artigo:
“hipnose é uma forma de usar a comunicação para envolver as crenças e os processos cognitivos das pessoas, de modo a alterar sua percepção da realidade”.
Aplicação
Eu me dei conta, como mencionei, de que algumas de minhas práticas clínicas seriam melhor compreendidas e tornariam-se mais facilmente multiplicáveis se eu levasse em conta o conceito de hipnose.
Meu filho mais velho, do primeiro casamento da minha esposa, tem flutuações de sensibilidade, principalmente proprioceptiva e vestibular. A dificuldade dos autistas com o processamento sensorial é tão relevante para a imagem clínica atual do autismo, que o DSM 5 a incorporou nos critérios diagnósticos.
Estas flutuações de sensibilidade o levam a comportamentos bastante difíceis de lidar, como bater no corpo de modo a substituir a propriocepção pelo tato, evitando a sensação aversiva de “perder o corpo” em que consiste a experiência de hipossensibilidade proprioceptiva.
Como ele não fala, precisei da dica de um amigo querido, Jim Sinclair, com o qual mantenho correspondência desde 2001, quando o convidei para uma conferência em Fortaleza sobre autismo. Jim é autista e presidente da Autism Network International, uma organização de defesa de direitos das pessoas autistas baseada no estado de NY nos EUA.
Nesta época, a comunidade médica não aceitava a idéia da desmodulação sensorial como parte intrínseca da definição de autismo, mas isso já era tema de nossas caudalosas trocas de e-mails. Eu observava, por exemplo, bem antes de isso ser um fato amplamente reconhecidamento, que pessoas autistas que apresentavam mais movimentos estereotipados tinham mais problemas sensoriais.
Jim sugeriu que eu segurasse em suas mãos e pés chacoalhando seu corpo, para que a vibração pudesse substituir o comportamento auto-lesivo de se esmurrar e se estapear. Esta intervenção foi sendo modificada pelas contingências das crises, ao longo dos anos, de modo que apenas a minha presença já fazia com que meu filho ficasse mais calmo, sinalizando que ele associava a minha presença à situação de ficar calmo e reassumir o controle.
Hoje, padronizei esta intervenção em um protocolo, que precisa ser variado conforme a intensidade da crise, mas de forma geral, coincide com os seguintes passos:
- Atrair a atenção dele para mim, através da pantomima;
- Complementar o ritmo de sua melodia corporal com essa pantomima, através do espelhamento, ganhando assim proximidade e facilitando o rapport.
- Ocasionalmente, a depender da violência da crise, provocar uma pequena sensação de instabilidade gravitacional, para provocar uma sensação de desequilíbrio e facilitar a ativação do ramo dorsal do nervo vago;
- Realizar toques e pressionamentos em pontos específicos do caminho ventral do nervo vago, para estimular a produção de ocitocina e levar ao relaxamento.
Em minha experiência, este protocolo diminui o tempo da crise de 10 a 15 minutos até de 2 a 6, tempo este medido quando eu não estava presente para facilitar o processo e ele teve que lidar com a crise sozinho, ou com a ajuda disponível, de cuidadores que contratamos, que quase sempre se resume a banhá-lo no chuveiro ou na piscina (esta última estratégia eu já proibí, pelo fato de ele também ter epilepsia, e de frequentemente uma destas crises comportamentais se converter numa convulsão típica.
Pode parecer que 15 minutos é pouco tempo, mas é uma eternidade durante uma crise deste tipo. Lesões físicas auto provocadas são extremamente comuns no decorrer deste tempo, e só o fato de estar interagindo diretamente com ele já diminui sua possibilidade de ocorrência.
Dado que a abordagem clássica a este tipo de crise chega a envolver “terapia” aversiva, o uso deste tipo de procedimento consiste numa alternativa humanizada e eficaz para diminuir o sofrimento de pessoas autistas com transtornos de processamento e integração sensorial.
Existem outras aplicações de Hipnose com pessoas autistas em outros pontos do espectro, mas este assunto será abordado em artigos posteriores.



 Neste artigo, elaborado a convite do professor de psicologia e hipnose
Neste artigo, elaborado a convite do professor de psicologia e hipnose